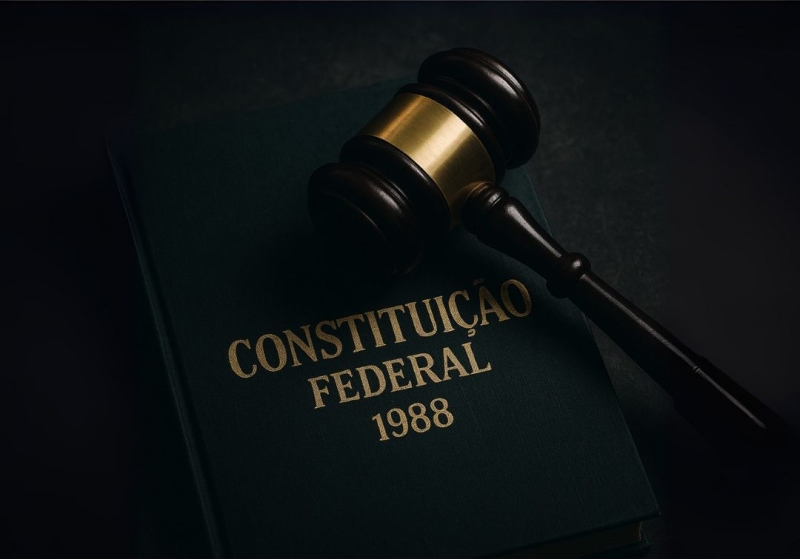Seguramente em nenhum outro momento da História Constitucional brasileira o poder judiciário esteve tão evidenciado pelas luzes da ribalta – em especial na última década.
E tal não se deu por meras circunstâncias políticas que, por razões tumultuosas, fizeram chegar aos Tribunais questões que envolvem políticos. Trata-se, sob a óptica histórico-jurídica, de um fenômeno mundial, agravado, no Brasil, por dispositivos singulares incluídos na Constituição de 1988. Na expressão de Manuel Gonçalves Ferreira Filho deu-se a «judicialização da política e a politização da Justiça».
Contribua com qualquer valor para o site "Cristãos Atrevimentos" Quero Doar Sob a lente da História do Direito poder-se-á perceber, com razoável clareza, o processo que levou a este fenômeno.
O poder político no Brasil se firmou, desde a Independência, sobre o princípio da separação dos poderes, elucubração cerebrina dos teóricos – sobretudo franceses – que foi recepcionada no mundo jurídico luso-brasileiro a partir da Revolução do Porto de 1820. Tal sistema rompeu com a tradição do Antigo Regime que vigorou no Brasil por mais de três séculos: o Poder uno, limitado por critérios ético-religiosos de matriz cristã e pelos corpos intermediários.
Mas a primeira Constituição do Brasil, a de 1824, foi sui generis, consolidando quatro poderes, sendo o Poder Moderador a chave de toda a vida política, podendo intervir nos três poderes da teoria clássica de Montesquieu. Dissolvendo o parlamento podia intervir no poder legislativo; demitindo ministros, teria ingerência sobre o executivo e afastando juízes que prevaricassem, estaria a agir de maneira profilática sobre o poder judicial.
Na construção teórica do aristocrata francês o poder judicial poderia vivenciar a Lei decidindo os litígios, punindo criminosos – sempre num processo dialético – o contencioso. A lição de Pedro Lessa não discrepa e afirma que o judiciário «tem por missão aplicar contenciosamente a lei a casos particulares». A função é de árbitro, que somente se pronuncia em casos particulares, e não em abstrato acerca das normas, preceitos e, ainda menos acerca de princípios jurídicos. Ainda é de se salientar não agir sem haver clara provocação, ou seja, não possui iniciativa.
E a doutrina clássica acerca da separação dos poderes os considera independentes e harmônicos. Logo, não poderia haver invasão de esferas. Para além disso não são delegáveis, de um poder para o outro, tarefas cometidas pela letra constitucional. Eis o princípio romano: delegata potestas delegare non potest. Ou seja, o poder delegado não pode ser redelegado… a máxima já se encontra no Digesto 1.21.5 com redação distinta.
O Judiciário diz o Direito – Iurisdictio – em casos concretos. Assim, vez por outra tem de apreciar ato de outro Poder. Não o faz para fiscalizar ou controlar, mas para assegurar o império da Lei1. A Constituição de 1934 consagrou o princípio da inafastabilidade do controle judicial – a contrario sensu – afirmando no seu art. 68: É vedado ao poder judiciário conhecer de questões exclusivamente políticas. Por sua vez a Constituição de 1946 apresenta-o de forma directa no art. 141 parágrafo 4º.
Contudo, ainda sob a égide da doutrina clássica pondera-se a impossibilidade do Poder Judiciário interferir no mérito do ato de outro Poder. Não lhe cabe pronunciar-se sobre conveniências de atos comissivos ou omissivos, do Legislativo ou do Executivo. A lógica diz que poder meramente político é um poder propriamente discricionário.
Sem dúvida o ponto mais sensível da doutrina clássica é o do controle da constitucionalidade das leis. Neste caso, o ato por excelência do Legislativo - para o qual contribui, ordinariamente, o Executivo pela sanção – é recusado pelo Judiciário. A discordância entre os Poderes, pelo menos entre Legislativo e Judiciário, aparece evidente. E, como a lei inconstitucional é posta de lado, prevalece o Judiciário.
A primeira república havia assumido a doutrina clássica. Mas, desde 1934 até à Constituição de 1988 há um processo histórico que altera o panorama. A Constituição de 1934 contribuiu para o desdobramento apontado com a institucionalização do "mandado de segurança" e da "ação popular", bem como com a previsão de controle direto de inconstitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal. E, saliente-se, não é irrelevante haver institucionalizado a Justiça Eleitoral.
O mandado de segurança permitiu não só que o juiz diretamente pusesse em causa ato de autoridade, para a defesa de outras liberdades além da de ir e vir, como para a tutela de qualquer direito, mesmo não constitucional, nem fundamental. Para ensejá-lo, é suficiente que o direito seja "certo e incontestável", ou como melhor se dirá de 1946 em diante: "líquido e certo" (art. 141, § 24). Estava desde então aberto o caminho para que os atos de intervenção no domínio econômico fossem frontal e rapidamente contestados pelos titulares de direitos por eles afetados.
A ação popular surgiu na Constituição de 1934. Ora, a ação popular tornar-se-ia, mais tarde – especialmente no período militar (sob a Constituição de 1967 e a Emenda nº 1/69) – um eficiente instrumento político. De fato, por uma ampliação do entendimento do conceito de lesividade, os atos de governo passaram a sofrer controle pelo Judiciário, num momento em que o Legislativo estava "domesticado".
•
É devido à Constituição de 1934 o primeiro (tímido) esboço de um controle direto de constitucionalidade. Aparece ele no art. 12, § 2º. A Constituição de 1946 deu os passos seguintes.
Entretanto, já se tornou mais delicada a função da Justiça com a Constituição de 1946. Esta, com efeito, deu ao Tribunal Superior Eleitoral o registro dos partidos políticos, bem como a cassação destes, inclusive por aplicação do art. 141, § 13, que proibia os partidos antidemocráticos. E isto se agravou com a Lei Magna de 1967, e a Emenda nº 1, de 1969, que não só mantiveram o controle sobre os partidos como admitiram inelegibilidades "punitivas", como as destinadas a preservar o regime democrático, a probidade administrativa, a repressão aos abusos do poder econômico, etc.
Este breve panorama do fortalecimento do poder judicial mostra um percurso que na Constituinte de 1987 alcançou o seu ponto de transição, com o corte abrupto com a tradição clássica acerca da separação dos poderes. A própria função de julgar foi transformada oferecendo um certo distanciamento da Lei, pois a letra constitucional importou o due process of law, substantivo do direito anglo-americano (art.5º, LIV). O magistrado passou a inquietar-se sobre a razoabilidade da lei, a proporcionalidade dos encargos que acarreta etc., quando antes era somente a voz da Lei. Os juízes logo tomaram consciência deste apanágio. A partir de então o Poder Judiciário não se encarregaria meramente de aplicar contenciosamente a lei a casos particulares. A CF de 1988 em vários pontos de relevo deixou de lado a doutrina clássica.
O controle da constitucionalidade por um lado não inova, mantendo-se o controle incidental e difuso. Mas em concorrência o controle por ação direta está longe da doutrina de Pedro Lessa. Controla-se, assim, lei ou ato normativo federal ou estadual.
E esta última ação de inconstitucionalidade avulta, tornando-se quase o sistema normal de controle, quando se considera que, antes adstrita ao Procurador-Geral da República, a sua titularidade se estende, também ao Presidente da República, à Mesa do Senado Federal, à Mesa da Câmara dos Deputados, à Mesa de todas as Assembléias Legislativas, a todos os Governadores de Estado, ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional (mais de uma dezena, creio eu…) e a todas as confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional.
Não espanta o número espantoso e colossal de ações de inconstitucionalidade ajuizadas no STF nas últimas décadas.
Acrescente-se a ação direta por omissão. Trata-se de uma censura – no sentido de reparo – ao poder legislativo. Tal é típico de uma concepção de constituição-dirigente à Doutor Gomes Canotilho. Impõe-se, assim, por via judicial a realização do programa ou das normas programáticas.
Apenas refiro o mandado de injunção. Aqui a Constituição faz o Judiciário de censor do Legislativo e se não o traz à legiferação, o deixa no limiar disto.
Some-se a isto a emenda 3/93 e a ação direta de constitucionalidade. Esta, como a expressão indica, visa declarar constitucional lei ou ato normativo federal. Isto é à primeira vista surpreendente! De fato, em termos doutrinários, a constitucionalidade é presumida. Considero, em termos de raciocínio lógico-formal, a ação de constitucionalidade não uma ação, mas uma espécie de sanção dada pelo Judiciário.
O Poder Judiciário foi fortalecido, sem dúvida, pela Constituição de 1988. A pergunta seria se não teria sofrido uma hipertrofia. E o papel do Judiciário torna-se acentuadamente de carácter político. No caso do controle de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade, que se generaliza, e a ação direta de constitucionalidade, fazem dele um legislador negativo, enquanto a ação de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção o impelem a tomar-se um legislador ativo.
Por tudo isso a Constituição justicializa o fenômeno político. Mas isto não se faz sem a politização da Justiça.
Pela Constituição o Judiciário controla a administração pública não só em vista dos interesses individuais, mas também em prol do interesse geral. Com isto, influi no sentido de uma justicialização da administração, que tem como reflexo – perdoe-se a insistência – a politização da justiça.
Junte-se a tudo isso o controle das eleições pelo Judiciário. A corrupção eleitoral é, sem dúvida, um dos males que a Constituição de 1988 pretende exorcizar. Entretanto, não ousando tocar na causa – o financiamento eleitoral, certamente por não ter solução aceitável – dispôs-se a combater-lhe as conseqüências. Assim, previu no art. 14, § II uma ação de impugnação de mandato que, de acordo com o § 10 desse mesmo artigo, deve ser fundada em abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Isto, na verdade, se soma às regras que, postas na legislação eleitoral, visam a impedir a desvirtuação e adulteração do processo de seleção política.
Mas cumpre indagar: Haveria alguma leniência da Justiça eleitoral com cores e ideários políticos? Repito: parece que deu-se uma hipertrofia de poder que teve como uma das suas consequências a justicialização da política e sua consectária politização da justiça.
A análise da Constituição de 1988 exigiu o emprego constante do termo controle para designar a atividade que, em diversos campos, exerce o Judiciário. Há uma razão para isto. Embora o termo controle tenha entre nós um sentido fraco ou subtil, vindo do francês contrôle, com a significação de fiscalização, verificação – e certamente foi com este sentido que a doutrina clássica o aplicou a propósito das questões de constitucionalidade – tem ele também um sentido vigoroso, vindo do inglês control, onde transparece a idéia de comando. Ora, é este sentido forte que espelha o papel dado pela Carta vigente ao Judiciário nos planos examinados, mesmo que de maneira perfunctória.
As faculdades políticas do Poder Judiciário cobrem desde o processo eleitoral, até o exercício do poder, expresso seja nas leis, seja nos atos de administração.
A hipertrofia do poder judicial na contemporaneidade é percebida com razoável nitidez se observada sob a lente histórico-jurídica. É este o contributo que a ciência histórica do Direito pode e pretende dar para os juristas empenhados em conhecer o fenômeno jurídico com rigor acadêmico.
1 Magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum, De Legibus, 3, 2. O magistrado é a lei que fala, a lei é o magistrado silencioso.
Contribua com qualquer valor para o site "Cristãos Atrevimentos" Quero Doar